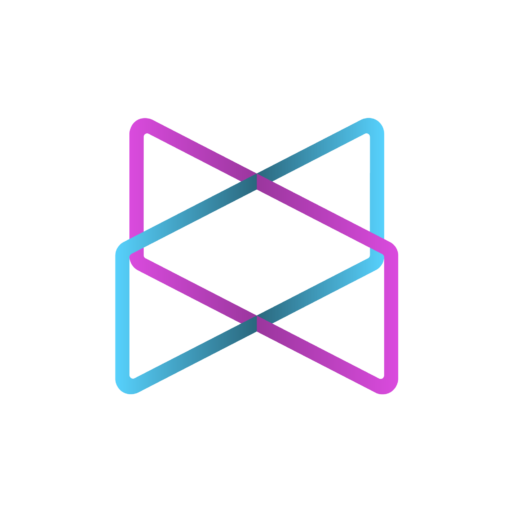
Close
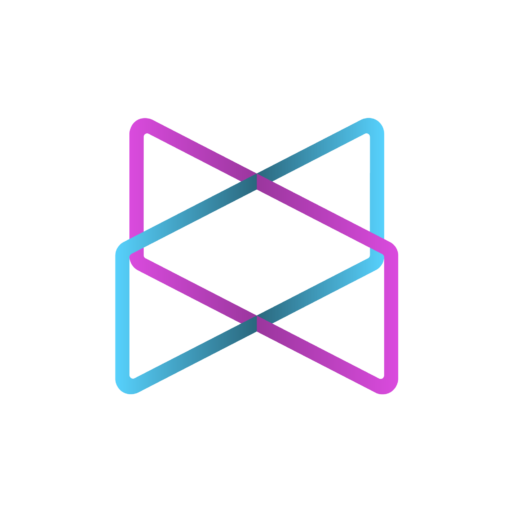
Artigo publicado na revista Fronteiras – Estudos Midiáticos
Professor do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pernambuco. Mestre e Doutor em Comunicação pela UFPE, com pós-doutorado pela UFF (RJ). Bolsista de produtividade Nível 2 do CNPQ.
Mestre em Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pernambuco, com estágio de mobilidade na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
O discurso do realismo está ligado à indústria cinematográfica desde sua pré-história, no século XIX. A própria existência de tecnologias de captura e reprodução de imagens (e sons) em movimento nasceu de um impulso que podemos classificar de realista: a necessidade do ser humano de registrar, através de dispositivos tecnológicos, da maneira mais exata possível, o mundo que habitamos. Esta é uma das razões pelas quais os pintores e artistas visuais aperfeiçoaram, durante muitos séculos, a arte de usar luz, sombra e perspectiva, a fim de capturar de maneira fiel aquilo que viam.
A busca pelo realismo, evidentemente, não está confinada às artes visuais. Outras artes, como a literatura, reivindicam o termo. O historiador Peter Brooks (2005) afirma que:
“A reivindicação de realismo, tanto na pintura quanto na literatura, ocorre, em grande parte, porque o sentido da visão é nosso guia mais confiável para reconhecer o mundo” (BROOKS, 2005, p. 2).
Tal afinidade conduz, para Brooks, a uma busca interminável por modelos de representação mimética da realidade. Brooks, contudo, acredita que o discurso do realismo teve uma guinada a partir da modernidade:
“O instinto de reprodução realista parece ser uma constante na imaginação humana (…). O que parece mudar com a chegada da era moderna – datando de algum momento do final do século XVIII, com a Revolução Francesa como grande evento emblemático, e o surgimento de Jean-Jacques Rousseau e depois dos escritores românticos ingleses como portadores da bandeira realista – é uma nova valorização da experiência do cotidiano, da poética do ordinário, de suas coisas e configurações comuns. Essa nova avaliação está ligada à ascensão da classe média à influência cultural, e à ascensão do romance como forma preeminente de modernidade“. (BROOKS, 2005, p. 7).
A importância do real não parece ter diminuído ao longo do século XX. O psicanalista Alain Badiou (2007, p. 58) assegura que a marca mais indelével do período é “a paixão pelo real”, uma posição endossada – de diferentes maneiras e através de abordagens teóricas distintas – por pesquisadores como Roger Odin (1995), Slavoj Zizek (2003) e Thomas Elsaesser (2015).
No campo da produção audiovisual, essa paixão tem se refletido através de uma valoração positiva de discursos relacionados ao real. Pesquisadores têm se desdobrado para relacionar esses discursos entre si, recorrendo a diferentes classificações: realismo afetivo (SCHØLLHAMMER, 2012), sensório (DE LUCA, 2015) e háptico (VIEIRA JR, 2015) são alguns dos termos através dos quais a ideia de realismo tem sido associada no cinema. Esses termos muitas vezes se referem a produções muito distintas umas das outras. Branco Sai, Preto Fica (Adirley Queiróz, 2015), A Bruxa de Blair (Daniel Myrick e Eduardo Sánchez, 1999) e Avatar (James Cameron, 2009), apenas para citar alguns exemplos, foram rotulados como realistas.
Acadêmicos de múltiplas correntes teóricas têm analisado a valorização do real (ANDACHT, 2005; FEL-DMAN, 2008; BRASIL; MIGLIORIN, 2010; CONTER, 2016), com pelo menos uma conclusão comum: o discurso do realismo (ou realismos, no plural) como construção social e fator de valoração cultural positiva parece onipresente. O real se tornou uma commodity estética de valor. O apelo realista, como afirma Ilana Feldman (2008) está presente na televisão, nos videogames, na publicidade, no jornalismo e, claro, no cinema, desde filmes realizados com smartphones até milionárias produções de Hollywood produzidas com tecnologia de ponta.
São inúmeras as táticas estilísticas capaz de abrigar a elástica definição de realista: o uso de sons e imagens registrados de forma acidental, com equipamentos caseiros; a utilização de imagens oriundas de smartphones, câmeras de vigilância, webcams, acopladas a sonoridades lo-fi2; o uso de tecnologias digitais (3D, IMAX, Dolby Atmos) capazes de fazer o espectador experimentar o filme como se estivesse dentro dele (e não mais diante dele); a incorporação do erro técnico, muitas vezes de forma deliberada, para criar um efeito de autenticidade documental; e muitas outras.
O realismo parece estar funcionando atualmente como símbolo positivo de distinção cultural (BOUR-2 DIEU, 2007). De curtas-metragens universitários a produções de Hollywood, o discurso do apelo ao real tem sido reivindicado com frequência. Parte significativa do cinema blockbuster produzido no século XXI investe fortemente na produção de imagens digitais em 3D de caráter fotorrealista:
“Como o 3D é nosso modo natural de ver, traz uma sensação de realismo à plateia. Com o 3D, não temos mais que reconstituir o volume de objetos na cena que estamos vendo, porque obtemos essa informação diretamente do nosso sistema visual. Ao reduzir o esforço empregado na suspensão da descrença, somos capazes de aumentar significativamente a experiência de imersão“. (MENDIBURU, 2009, p. 3).
Neste artigo, pretendemos discutir a noção de imersão diegética (MENDIBURU, 2009; TRICART, 2017) como uma das modalidades possíveis de realismo na produção audiovisual contemporânea. Queremos avaliar se essa estratégia estilística provoca de fato a sensação de mimese do real, e até que ponto o uso do termo ‘realismo’ seria uma estratégia de valoração estética. O realismo imersivo pode ser compreendido como uma modalidade estética do audiovisual?
Escolhemos, para cumprir nossos objetivos, analisar as estratégias estilísticas de som e imagem de um dos filmes que apostam mais fortemente no apelo cinestésico3 (SOBCHACK, 2004) da imersão: Gravidade (Gravity, Alfonso Cuarón, 2013). Considerando ser a imersão dietética um dos principais objetivos estilístico deste, e de centenas de outros longas-metragens (MOURADIAN, 2013), tentaremos discutir quão eficientemente tal projeto pode ser associado a uma experiência realista, e por consequência a uma modalidade de realismo que poderíamos chamar de imersivo.
Gravidade conta a história de dois astronautas, Ryan Stone (Sandra Bullock) e Matt Kowalski (George Clooney), que realizam uma missão de manutenção e troca de peças do telescópio espacial Hubble, quando são atingidos por uma chuva de detritos causados pela explosão de um satélite russo. O incidente destrói parte do veículo espacial em que viajavam, deixando um terceiro tripulante morto. Flutuando no espaço e sem comunicação com a Terra, os astronautas precisam encontrar uma maneira de retornar ao planeta, apesar das avarias graves na nave que têm à disposição.
Um primeiro aspecto que chama a atenção no filme é que, graças à falta de gravidade do espaço, a diegese não possui eixos horizontais e/ou verticais fixos, o que libera a câmera (e também os sons) para se movimentar em qualquer direção. Cuarón aproveita essa oportunidade para compor, junto com o diretor de fotografia Emmanuel Lubezki, longos planos-sequência em que os dois personagens, assim como diversos objetos, circulam ao redor do Hubble nas mais diversas direções possíveis. Trata-se do amálgama de um espaço diegético e uma situação dramatúrgica propícios para experimentar tecnologias digitais de imersão do espectador, tais quais o 3D digital e o sistema de reprodução sonora Dolby Atmos.
Para realizar o filme de forma a aproveitar essas condições narrativas singulares, Cuarón e Lubezki criaram uma plataforma giratória com braços móveis, capaz de sincronizar os movimentos dos dois atores e da câmera em qualquer direção e velocidade, dentro de um estúdio com fundo verde (as imagens do espaço, incluindo as estrelas e a Terra, foram criadas em computador). O roteiro foi, então, decupado em 156 planos, distribuídos em 91 minutos de projeção – uma média de 45 segundos por plano, mais de nove vezes superior a um filme normal de Hollywood (SALT, 2009, p. 378). O filme inclui um plano-sequência de abertura de 13 minutos de duração, que abrange todo o primeiro ato, e no qual concentraremos a análise presente nesta seção.
Os planos longos, marca registrada estilística de Alfonso Cuarón, se ajustam perfeitamente aos filmes que utilizam a tecnologia 3D, por razões principalmente fisiológicas, pois o cérebro leva mais tempo para ‘unir’ as duas diferentes perspectivas visuais captadas por cada olho em uma imagem tridimensional única, de acordo com Céline Tricart (2017), que denomina o processo de estereópse. A visão estereoscópica é estruturada pela soma das pistas monoculares (indutores de profundidade presentes em uma imagem bidimensional) e binoculares (outros indutores de profundidade, presentes na imagem tridimensional) presentes nas imagens (SOUZA, 2011; TRICART, 2017).
As pistas monoculares são indutores de profundidade psicológicos, como indicam os dois autores citados, e compreendem elementos como sombra, luz, cor, linhas e pontos de fuga; após serem organizados na mise-en-scènede um plano cinematográfico, esses elementos criam a ilusão de profundidade de maneiras que podem ser percebidas mentalmente. Por outro lado, ambos mencionam que as pistas binoculares são indutores fisiológicos de tridimensionalidade, e só podem ser percebidas com a ajuda de óculos especiais. Aspectos que levam em conta a fisiologia da visão, como o espaço ocular de acomodação e o ponto de convergência da visão humana, compõem as pistas binoculares: são as paralaxes.
Bernard Mendiburu (2009, p. 87) define a paralaxe como um indutor de profundidade binocular que define onde um objeto está posicionado no espaço, propiciando as sensações de volume e distância espacial. Se a imagem bidimensional divide o plano cinematográfico em zona frontal (elementos em primeiro plano), intermediária (elementos em segundo plano) e de fundo (elementos em terceiro plano), a imagem 3D estereoscópica também tem zonas de profundidade, tecnicamente chamadas de paralaxe negativa, positiva e neutra (zero).
A paralaxe negativa ocorre quando os objetos parecem saltar da tela, se posicionando além do primeiro plano, dentro mesmo do espaço do auditório. A paralaxe positiva mostra o oposto: o espectador tem a sensação de que os objetos estão afundados na superfície da tela, no fundo da diegese, mais afastados do espectador do que a tela de projeção. Quando não há evidência de nenhum desses efeitos, os objetos estão em paralaxe neutra. As diferentes paralaxes só podem ser visualizadas com óculos 3D.
Céline Tricart (2017) atribui diferentes efeitos sensoriais e estéticos aos três tipos de paralaxes. Denominando o espaço tridimensional onde ocorre a ação diegética de “caixa cênica” (2017, p. 226), ela sugere que o uso agudo da paralaxe negativa resulta em uma estética espetacular, exagerada e hiper-real. O uso denso da paralaxe positiva favoreceria filmes de narrativa mais sóbria, em especial documentários; e o uso discreto e equilibrado da combinação entre as três paralaxes provocaria, de modo geral, um senso de imersão diegética mais consistente na plateia, que se sentiria “envolvida” pelo ambiente onde ocorre a ação dramática.
A paralaxe negativa é certamente espetacular, e não muito narrativa. (…) Mas quando usamos esse tipo de cena espetacular, tem-se um impacto dramático na audiência, e ocorre a mesma coisa com os efeitos fora da tela no filme em 3D. (…) É um tipo muito expressionista de cinema, mas esse tipo de efeito, se usado com discrição, pode ser muito poderoso. (TRICART, 2017, p. 129).
Essa explicação básica de como funcionam os efeitos de tridimensionalidade é importante para compreender as características estilísticas de Gravidade, e o quanto elas permitem que possamos discutir o grau de imersão de um filme em 3D (com a ajuda do som, elemento que discutiremos na próxima seção). Para detalhar melhor esse raciocínio, vamos discutir a sequência de abertura, que apresenta o mais longo plano do filme. Na abertura, o cenário virtual da Terra a mostra girando, à medida que a câmera vai se aproximando da estação espacial americana.
Aos poucos, a câmera flutua em direção à nave acoplada ao Hubble, enquanto Kowalski faz o mesmo da zona de fundo para a frontal, com a câmera o acompanhando. Em seguida, o personagem se estabiliza em uma encenação diagonal. Nesse esquema estilístico, o personagem fica em primeiro plano e a nave em segundo, enquanto a Terra está ao fundo (Figura 1). Além disso, há a formação de uma pista monocular de perspectiva linear sugerindo essa profundidade, como também a colocação estereográfica de Kowalski, que está em paralaxe negativa leve. Efeitos de profundidade monoculares e binoculares estão em ação, de maneira discreta, mas consistente.
A prática estilística da construção visual, em Gravidade, inclui de forma frequente as composições pictóricas recessivas (WÖLFFLIN, 2000, p. 101). Nesse tipo de composição imagética, atores e objetos estão colocados a diferentes distâncias da câmera, criando pistas monoculares diagonais na imagem. No caso do enquadramento em questão, a paralaxe negativa focaliza Kowalski, colocando o espectador junto a ele e provocando um efeito realista de imersão, enquanto o movimento de câmera que acompanha o personagem cria uma composição recessiva, com o Hubble mais afastado e a Terra ao fundo. Em seguida, a composição se torna ainda mais descentralizada, com Kowalski flutuando pelo lado esquerdo. A câmera não mais o segue, se movimentando agora vagarosamente pelo lado direito. O espectador passa a acompanhar a perspectiva da visão da câmera e não o movimento do personagem; a discrição com que isso acontece aponta para um grau reforçado de imersão e realismo. Logo, percebemos que o filme apresenta o movimento de câmera como parte da sua mise-en-scène. No caso de Gravidade, esta não pode ser considerada uma variável independente.

Figura 1. Composição recessiva com ator em primeiro plano, a nave em segundo e a Terra em terceiro (2:54).
Em seguida, a câmera continua a avançar, aproximando-se cada vez mais do cenário do Hubble. Este se encontra em perpendicular, proporcionando mais profundidade, e ao mesmo tempo acostumando gradativamente o espectador à ausência relativa de um eixo horizontal fixo. Em um desses movimentos, percebe-se que o braço robótico do Hubble está em paralaxe negativa no primeiro plano, ‘pendendo’ para fora da tela; isso significa que mais uma vez o espectador é imerso na mesma camada visual do personagem, já que o elemento no primeiro plano está em paralaxe negativa, invadindo o espaço do auditório. Esta composição deixa o espectador tão imerso no filme que ele é capaz de abaixar a cabeça para não bater na peça – há, portanto, um grau elevado de realismo na imersão.
Nos primeiros minutos do plano, o uso meticulosamente organizado de pistas monoculares e binoculares constrói um espaço tridimensional completo e estabelece um grau de imersão realista e reforçada, através desses efeitos; Cuarón convida o espectador a acompanhar a ação de Gravidade de dentro do espaço diegético, junto com personagens, e não diante deles. O público é convocado a navegar no espaço e se tornar um participante do filme, uma testemunha privilegiada dos eventos que virão. De modo geral, esse “convite” se estende ao filme como um todo.
Um esquema estilístico constante usado em todo o plano é a movimentação de câmera, para os lados (pan), para a frente e em diagonal, mas sempre de modo suave e em velocidade constante. A câmera, de fato, se movimento exatamente da mesma maneira que os astronautas. Cuarón também cuida para que todas as camadas de profundidade estejam sempre em foco. Essa profundidade nítida, junto com a economia de cortes, ajuda a mente do espectador a compreender facilmente a geografia do cenário, e evita sobressaltos que levem à exaustão fisiológica do nervo ocular.
Outro aspecto relevante da mise-en-scène do filme é o cenário digital. A Terra permanece todo o tempo na zona de fundo, em paralaxe positiva, e é mantida sem-pre em foco nítido. No contexto do plano-sequência, e do filme como um todo, é possível concluir que o uso da profundidade de campo ajuda a aumentar o efeito estereoscópico, encravando as figuras visuais da zona de fundo sempre no terceiro plano, muitas vezes em paralaxe positiva.
Assim, a câmera se movimenta constantemente em combinações de pan, tilt e linhas diagonais, cortando a área em torno do Hubble e apresentando o espaço sideral de modo muitas vezes perpendicular. A mise-en-scènedinâmica é propícia para a organização visual de um esquema recessivo. Além disso, vemos Kowalski cortar obliquamente o plano da imagem, indo da zona de fundo para a zona frontal da imagem, variando entre paralaxes negativas e positivas discretas. Dessa forma, Cuarón não apenas constrói um espaço diegético tridimensional, como coloca efetivamente o espectador dentro dele. O efeito de imersão realista é realmente reforçado.

Figura 2. A primeira aparição de Sandra Bullock no filme: a vida de cabeça para baixo (4:04).
Uma vez que o cenário tridimensional esteja bem estabelecido, a narração nos apresenta a um segundo personagem, que surge pela primeira vez saindo pela zona frontal, na lateral esquerda, criando um grande primeiro plano de caráter recessivo, com uma figura bem próxima à câmera e uma ação menos importante mostrada ao fundo. Na sequência, a saída do astronauta do quadro termina por apresentar, em primeiro plano, a personagem principal do filme: Ryan Stone (Sandra Bullock), que aparece pela primeira vez de cabeça para baixo – não apenas uma maneira curiosa de chamar a atenção para a importância narrativa dela, mas talvez simbolizando mesmo o que acontecerá com a própria vida dela nos minutos a seguir (Figura 2). David Bordwell explica que grandes primeiros planos são constantemente usados para criar “efeitos pictóricos dramáticos de suspense e surpresa” (2008, p. 144), exatamente como ocorre aqui.
Neste ponto do plano-sequência, o enredo e a mise–en-scène enfatizam a tensão da astronauta, e sua falta de familiaridade com o espaço. Ela se sente fisicamente enjoada, e durante a manutenção do telescópio com Ko-walski ao lado, um parafuso escapa de suas mãos (Figura 3) – uma oportunidade perfeita para criar um instante poderoso e realista de paralaxe negativa, com o parafuso flutuando no meio da plateia, até que a mão de Kowalski o alcança (é preciso conter o instinto de abaixar a cabeça para se desviar). O uso da paralaxe negativa, mais uma vez, é rápido e contido, sem procurar um efeito espetacular ou hiper-realista. Existe, claramente, uma preocupação em manter a atenção do espectador no enredo, sem permitir que essa atenção se desvie para aspectos extra-diegéticos, o que ocorreria se a aplicação dos recursos do 3D fosse exagerada. O efeito imersivo é potente, mas realista.
Apresentados os personagens, é chegada a hora do conflito que impulsiona o enredo rumo ao segundo ato. A base espacial que fica na cidade de Houston avisa aos astronautas que um míssil russo explodiu um satélite inativo, ocasionando sem querer uma nuvem de detritos que deve passar muito perto do Hubble. Nesse momento, há uma clara mudança de ritmo na mise-en-scène, pois a movimentação dos astronautas se torna mais frenética. A câmera, que flutuava suavemente e em ritmo constante, passa a girar em movimentos rápidos e inconstantes, criando uma sensação de instabilidade e perigo.
Segundos antes de os detritos atingirem o Hubble, Kowalski surge flutuando de cabeça para baixo, em primeiro plano, enquanto Stone pode ser vista na zona intermediária, presa no grande braço robótico do telescópio espacial, e o planeta Terra aparece ao fundo. Trata-se de um enquadramento que explicita as posições espaciais dos dois personagens, em relação à estação espacial, e desta em relação à Terra, antes que o caos tome conta da situação. O restante do plano-sequência é dedicado a mostrar o violento impacto dos destroços do satélite russo contra a estação espacial. O terceiro astronauta da missão é atingido logo no que as primeiras peças passam velozmente pela Hubble, mas o pior ainda está por vir, quando destroços maiores atingem e despedaçam a maior parte da estação espacial que acomoda o grande telescópio. Kowalski consegue escapar sem danos, mas Stone não tem a mesma sorte: apesar de não ser diretamente acertada por nenhuma peça, o braço mecânico em que ela está presa é despedaçado, e ela passa a girar sem controle para longe do Hubble (Figura 4).

Figura 3. O parafuso flutua em direção à plateia, em paralaxe negativa (6:33).
No contexto desses giros, é importante ressaltar o papel narrativo da luz dentro da mise-en-scène. Além de funcionar como indutor de profundidade monocular, ela também auxilia a personagem (e o espectador) a organizar mentalmente a posição espacial do corpo que gira. Nesse trecho, a luz solar está sempre do lado esquerdo da tela, enquanto a Terra está do lado direito (Figura 5).
O plano-sequência é fortemente imersivo. Resta-nos saber se a imersão se traduz, também, em realismo. Nesse sentido, vale a pena recordar os estudos de Miriam Ross (2015), para quem o cinema tridimensional possui forte potencial a ser explorado, em termos de provocar no espectador reações fisiológicas que vão além dos sentidos da visão e da audição. Baseando-se em conceitos de Vivian Sobchack (2004) e Steven Shaviro (2015), que atentam para os modos como o cinema é capaz de trabalhar relações sensoriais e táteis entre o espectador e o filme, Ross (2015) sugere que o uso do 3D traria uma intensidade maior à tatilidade das imagens, através das composições visuais que usam as técnicas de paralaxe para construir campos visuais mais largos e intensos. Essa ideia é confirmada em nossa análise. Em toda a sequência, paralaxes negativas e positivas cuidam de manter a ação diegética dentro da “caixa cênica” de Céline Tricard (2017, p. 226), expandindo o senso de imersão do espectador e, em grande medida, também a verossimilhança daquilo que vimos. Na próxima seção, analisaremos o papel do som no reforço à impressão de realismo imersivo.
Filmes ambientados fora da atmosfera terrestre encaminham um problema conceitual a ser abordado por sound designers: já que o som precisa obrigatoriamente de um meio físico (ar, água, madeira, concreto etc.) para se propagar, um filme realista cuja ação acontece no espaço sideral não deveria ser acompanhado por qualquer sono-ridade diegética, pois não existe propagação sonora num lugar onde não existe meio físico. Fabrizio di Sarno (2014, p. 156) observa que, historicamente, filmes de ficção científica encontraram duas maneiras de driblar o problema:
Primeiramente encontramos filmes com características hiper-realistas, como Guerra nas Estrelas (1977), onde o ambiente espacial é inundado com diversos tipos de sons (…). Neste caso, o efeito dramático se torna mais importante do que o efeito realista, pois ao infringir as leis da física do som o filme passa automaticamente a ostentar um cenário fantasioso (…) Gravidade segue a linha de construção de som mais realista do ambiente espacial, também presente em diversos momentos da ficção científica. São exemplos desta linha os filmes 2001 – Uma Odisseia no Espaço (1968) e Alien – O Oitavo Passageiro (1979), ambos evitando completamente a propagação de som no vácuo. (DI SARNO, 2014, p. 156)
Os filmes mencionados como realistas, contudo, têm a maior parte da ação dramática correndo dentro de naves espaciais, cujo ambiente interno reproduz as mesmas regras de propagação do som da atmosfera terrestre. Não é o caso de Gravidade, em que grande parte dos eventos diegéticos ocorrem no espaço sideral propriamente dito, onde estão os personagens.
O sound designer Glenn Freemantle, líder da equipe responsável pelo som de Gravidade, lidou com esse problema de maneira singular. Diante da insistência do diretor Alfonso Cuarón a respeito da importância de tratar o som de modo realista, Freemantle encontrou a resposta no conceito de ponto de escuta. Michel Chion (2008, p. 74) sugere que o ponto de escuta é o equivalente acústico à noção de ponto de vista visual. Chion afirma, ainda, que o ponto de escuta pode ter dois sentidos – um espacial (as características acústicas de um evento sonoro, como timbre, reverberação e espacialidade, podem ajudar a plateia a localizar a sua origem dentro do espaço fílmico) e outro subjetivo (o sound designer procura colocar o espectador na exata perspectiva sonora de um determinado personagem).
Para manter o realismo, não era possível apresen-tar o som de forma objetiva – com um ponto de escuta neutro – nas sequências em que os astronautas flutuam no espaço. Assim, em sequências como a abertura do filme, o ponto de escuta é 100% subjetivo: ouvimos exatamente da mesma maneira que os astronautas ouvem. Como eles estão vestidos com trajes especiais, são capazes de escutar três tipos de sons. O primeiro tipo é a comunicação via rádio entre eles próprios e a estação terrestre de Houston, através de transmissores e receptores digitais instalados nos capacetes. O segundo tipo consiste dos ruídos produzidos pelos corpos, como a respiração e as batidas do coração. Sons produzidos pelo contato entre corpos e objetos com o traje espacial, e que são sentidos pelos astronautas como vibrações, mais através do tato do que pela audição, constituem o terceiro tipo.
Embora original e realista, a opção estilística traz consigo um problema de ordem narrativa: se seguida à risca, essa estratégia comprometeria o sound design do momento-chave do primeiro ato, o instante em que a chuva de destroços atinge a estação espacial. Os astronautas Kowalski e Stone são testemunhas e participantes do evento catastrófico, mas não têm contato físico com ele – e, portanto, não são capazes de sentir (com o tato) e nem de ouvir (com a audição) a destruição, que apenas veem (com a visão). Via de regra, isso determina que o espectador igualmente seja incapaz de ouvir as explosões, uma tradição em filmes de grande orçamento em Hollywood.
Esta opção estilística é, sem dúvida, realista. Mas como reforçar a imersão, tão central na estratégia de composição visual? Fabrizio di Sarno (2014) observa que a equipe criativa resolveu esse dilema através do uso da música de Steven Price, que recorre a um expediente outrora (a era de ouro de Hollywood, entre os anos 1930 e 1940) comum em composições para filmes, mas atualmente raro: a técnica conhecida mickeymousing4, na qual o score, através de uma descrição musical minuciosa, pontua detalhadamente as ações visuais vistas na tela (CARREIRO, 2018, p. 58).
Assim, toda a primeira parte do plano-sequência é dominada pelos diálogos entre os personagens, que nos dão informações narrativas importantes sobre as vidas e personalidades, e pelos sons gerados pelo contato entre os corpos e os trajes espaciais, em um toque de realismo cuja imersão é garantida pela espacialização detalhada desses sons mínimos por toda a sala de projeção, algo permitido pela tecnologia de reprodução sonora denominada Dolby Atmos, sobre a qual falaremos mais adiante.
A partir do momento em que os destroços do satélite russo atingem a estação espacial, a música grave e soturna se torna o elemento sonoro dominante, em que elementos percussivos simulam sincronicamente as pancadas sofridas pelo Hubble.
A terceira e última parte do plano-sequência, cujo ponto de escuta predominante vem da personagem feminina, tem dominância dos sons objetivos internos (CHION, 2008, p. 64) de Ryan Stone, em especial os sons de respiração. De fato, a respiração da astronauta também ascende ao primeiro plano narrativo: ela precisa controlar o ritmo da respiração para poder poupar o oxigênio que lhe resta, e só assim poderá sobreviver até que Kowalski chegue em seu socorro, enquanto gira desgovernada pelo espaço.
A presença destacada da respiração da astronauta no plano-sequência (assim como, em menor grau, das batidas do coração, que também podemos ouvir) segue uma tendência cristalina, em filmes contemporâneos, de maior destaque dado ao conteúdo não semântico da voz. Davina Quinlivan (2011) propõe que a respiração possui grande importância na ligação emocional entre os personagens e os espectadores, reunindo-os em um continuum sensorial e afetivo, o que termina por gerar uma experiência cinestésica, na qual a plateia experimenta o filme com o corpo inteiro, e não mais apenas com a visão e a audição. A respiração, como elemento capaz de transcender fronteiras, como o visível e o invisível, o interior e o exterior do corpo, seria capaz de “orientar a percepção da experiência fílmica” (QUINLIVAN, 2011, p. 11), por interpelar afetivamente o espectador. O ato de respirar, apresentado com destaque em Gravidade, seria componente significativo de uma experiência imersiva realista.
Por fim, o potencial de imersão do filme de Al-fonso Cuarón é realçado, ainda, pela mixagem de Skip Lievsay, que utiliza o potencial tecnológico oferecido pelo sistema Dolby Atmos para envolver o espectador por sons que se movem ao redor deles. O Dolby Atmos é um sistema de reprodução sonora que permite, através de autofalantes instalados no teto, no chão e em todas as paredes da sala de exibição (o número total de caixas acústicas pode chegar a 128, dependendo do tamanho do local), que os mixadores tratem determinados sons como objetos tridimensionais, encodando nos arquivos sonoros metadados geográficos de três dimensões. Isso permite que esses sons viajem pela sala de exibição em qualquer direção ou velocidade. O sistema, portanto, permite que o espectador esteja sempre posicionado dentro do espaço de ação dramática (KERINS, 2010, p. 130), pois os sons o envolvem por completo. A sensação de imersão realista proporcionada pelo 3D, portanto, é ampliada e reforçada pela banda sonora.
Nesse sentido, considerando o estilo de mise-en–scène concebido por Alfonso Cuarón – fazer a câmera bailar por entre os personagens, circulando-os em planos longos, com uso frequente de paralaxes negativas e muita profundidade de campo –, o filme oferece uma condição favorável à exploração de estratégias ousadas de espacialização sonora, durante a fase de mixagem. Cuarón e Lie-vsay decidiram deixar de lado a conservadora estratégia “telocêntrica” de espacialização sonora (KERINS, 2013, p. 587), em favor de um uso mais ousado e dinâmico da reprodução multicanal. Os diálogos entre personagens, que em filmes comuns costumam ser confinados ao canal dianteiro central, em Gravidade viajam por todas as direções, acompanhando o movimento dos astronautas enquanto eles flutuam pelo espaço.
Em vários momentos do plano-sequência inicial, podemos ouvir as vozes dos atores George Clooney e San-dra Bullock vindo dos canais surround laterais e traseiros, de acordo com a posição visual de cada um no espaço diegético mostrado em 3D. Essa estratégia, naturalmente, potencializa ainda mais o efeito de imersão, dando aos diálogos também um reforço realista suplementar; afinal, ela espelha o que ocorre quando uma pessoa fala conosco enquanto se move, no mundo real, em que sua voz também 123 se movimenta. Isso normalmente não acontece no cinema convencional, onde as vozes estão sempre mixadas de modo fixo, em frente e no meio da tela.
O score musical do filme, da mesma maneira, foi mixado de forma ousada, com ‘rajadas’ de instrumento se movendo pela sala de projeção em diferentes direções: da frente para trás e vice-versa, da esquerda para a direita e vice-versa, em trajetórias diagonais ou circulares – e sempre em sincronia com a ação dramática vista na tela. A mixagem em Dolby Atmos, portanto, aliada à mise-en–scène e ao uso do 3D, permitiu a criação de um filme que explora com bastante ênfase a ideia de imersão, e o faz dando ênfase absoluta a sonoridades realistas.
Não há dúvida de que muitos fatores reforçam a estratégia imersiva proposta por Alfonso Cuarón. O contexto narrativo, aliado ao tratamento estilístico dado a som e imagem, com a ajuda das tecnologias do 3D digital e do Dolby Atmos, resultaram em um produto audiovisual em que a sensação de imersão diegética é reforçada e ampliada. Mas, afinal, é possível afirmar que essa estratégia de imersão se traduz em realismo? Em que medida o uso do termo ‘realismo’ seria uma estratégia de valoração estética? É possível falar de realismo imersivo como modalidade estética?
A resposta a essas perguntas passa, em nosso entender, pela noção de cinestesia proposta por Vivian Sobchack (2004), que o filme efetivamente proporciona ao espectador. A análise estilística que realizamos nas pá-ginas anteriores mostra que o longa de Cuarón convida o espectador a experimentar o filme com todos os sentidos, em especial o tato. Graças ao uso minuciosamente plane-jado de imagem e som tridimensional, a imersão diegética proporciona ao espectador a ativação de formas táteis, hápticas e sensoriais de se relacionar com o filme. Esta é uma prática que pode ser considerada realista. Portanto, o uso do termo em filmes como Gravidade, embora possa conter realmente um componente de valoração estética, ecoa as práticas estilísticas e traduz uma tendência realista do audiovisual contemporâneo.
A movimentação de câmera se mistura com as ações dos personagens e transforma o espectador em um observador ativo, fazendo-o imergir dentro da diegese e o convidando a interagir, afetiva e até mesmo fisicamente, com o mundo ficcional. O momento em que uma lágrima da personagem interpretada por Sandra Bullock surge em paralaxe negativa, saltando para fora da tela (Figura 6), talvez seja o mais forte exemplo dessa experiência em Gravidade: o instinto natural do espectador é de tocar a lágrima, ou tentar secá-la. A empatia com a personagem estimula uma poderosa experiência tátil e afetiva que pode, a titulo de conclusão, ser efetivamente classificada como realismo imersivo.

Figura 6. A lágrima de Sandra Bullock está em paralaxe negativa (1:00:18).
TRICART, C. 2017. 3D filmmaking: techniques and best practic-es for stereoscopic filmmakers.New York, Focal Press.ANDACHT, F. 2005. Duas variantes na representação do real na cultura midiática: o exorbitante Big Brother Brasil e o circunspecto Edifício Master. Contemporânea, 3(1): 95-122.BADIOU, A. 2007. The century. Cambridge, Polity Press.BORDWELL, D. 2008. Figuras traçadas na luz. Campinas, Papirus.BRASIL, A.; MIGLIORIN, C. 2010. Biopolítica do amador: generalização de uma prática, limites de um conceito. Galáxia, 20(1): 84-94.BROOKS, P. 2005. Realist vision. New Haven, Yale University Press.CARREIRO, R. 2018. A história do som dos filmes. In: CAR-REIRO, R. (org.) O som do filme: uma introdução, Curitiba, Editora da UFPR: 35-86.CHION, M. 2008. A audiovisão. Lisboa, Letras & Grafia.CONTER, M.B. 2016. Lo-fi: música pop em baixa definição. Curitiba, Appris.Figura 6. A lágrima de Sandra Bullock está em paralaxe negativa (1:00:18).Figure 6. Sandra Bullock’s tear is in negative parallax (1:00:18). ELSAESSER, T. 2015. Cinema mundial: realismo, evidência, presença. In: MELLO, C. (org.), Realismo fantasma-górico, São Paulo, Pró-Reitoria de Extensão da USP: 37-60.FELDMAN, I. 2008. O apelo realista. Famecos, 15(36): 61-68. KERINS, M. 2010. Beyond Dolby (Stereo): cinema in the digital sound age. Bloomington, Indiana University Press.__________. 2014. “Multi-channel gaming and the aesthetics of interactive surround” In: GORBMAN, C; RICHARD-SON, J; VERNALLIS, C. (orgs.). The Oxford handbook of new audiovisual aesthetics. Oxford University Press, 2013: 585-597.LUCA, T. Realismo dos sentidos: uma tendência no cinema mundial contemporâneo. In: MELLO, C. (org.), Realismo fantasmagórico, São Paulo, Pró-Reitoria de Extensão da USP: 61-93.MOURADIAN, J. 2013. Review: Alfonso Cuarón’s Gravity is an immersive cinematic exploration. UWM. Disponível em https://uwmpost.com/fringe/review-alfonso-cuarons–gravity-is-an-immersive-cinematic-exploration. Acesso em: 28/04/2019.ODIN, R. 1995. Le film de famille: usage privé, usage public. Paris, Klincksieck.ROSS, M. 2015. 3D cinema: optical illusions and tactile ex-periences. Basingstoke, Palgrave Macmillan.SARNO, F. 2015. A construção do realismo sonoro no filme Gravidade. In: Congresso da SOCINE, XXVII, Campi-nas. Anais: 154-162. SCHØLLHAMMER, K.E. 2012. Realismo afetivo: evocar realismo além da representação. Estudos de literatura brasileira contemporânea, 39(1): 129-148.SHAVIRO, S. 2015. O corpo cinemático. São Paulo, Paulus.SOBCHACK, V. 2004. Carnal thoughts: embodiment and moving image culture. Berkeley, University of Cali-fornia Press.VIEIRA JR, E. 2015. Por uma exploração sensorial e afetiva do real: esboços sobre a dimensão háptica do cinema contemporâneo. In: MELLO, C. (org.), Realismo fan-tasmagórico, São Paulo, Pró-Reitoria de Extensão da USP: 93-113.WÖLFFLIN, H. 2000. Conceitos fundamentais da história da arte: o problema da evolução dos estilos na arte mais recente. São Paulo, Martins Fontes. ZIZEK, S. 2003. Bem-vindo ao deserto do real. São Paulo, Boitempo Editorial.
Inovação e Realidades Estendidas
contatodurandcreator@gmail.com
© 2024 – Durand Creator – Criado com amor por Web Your Site